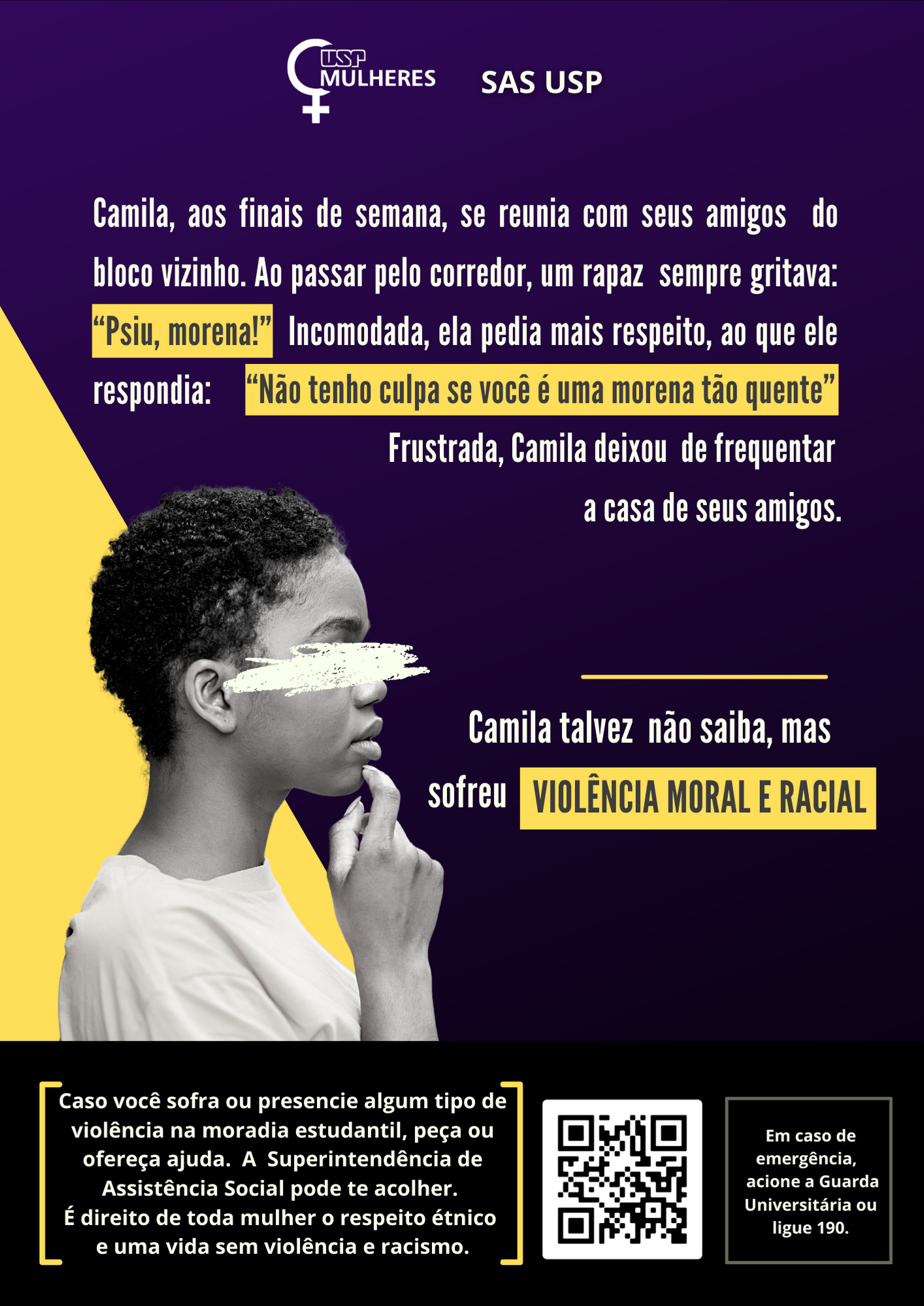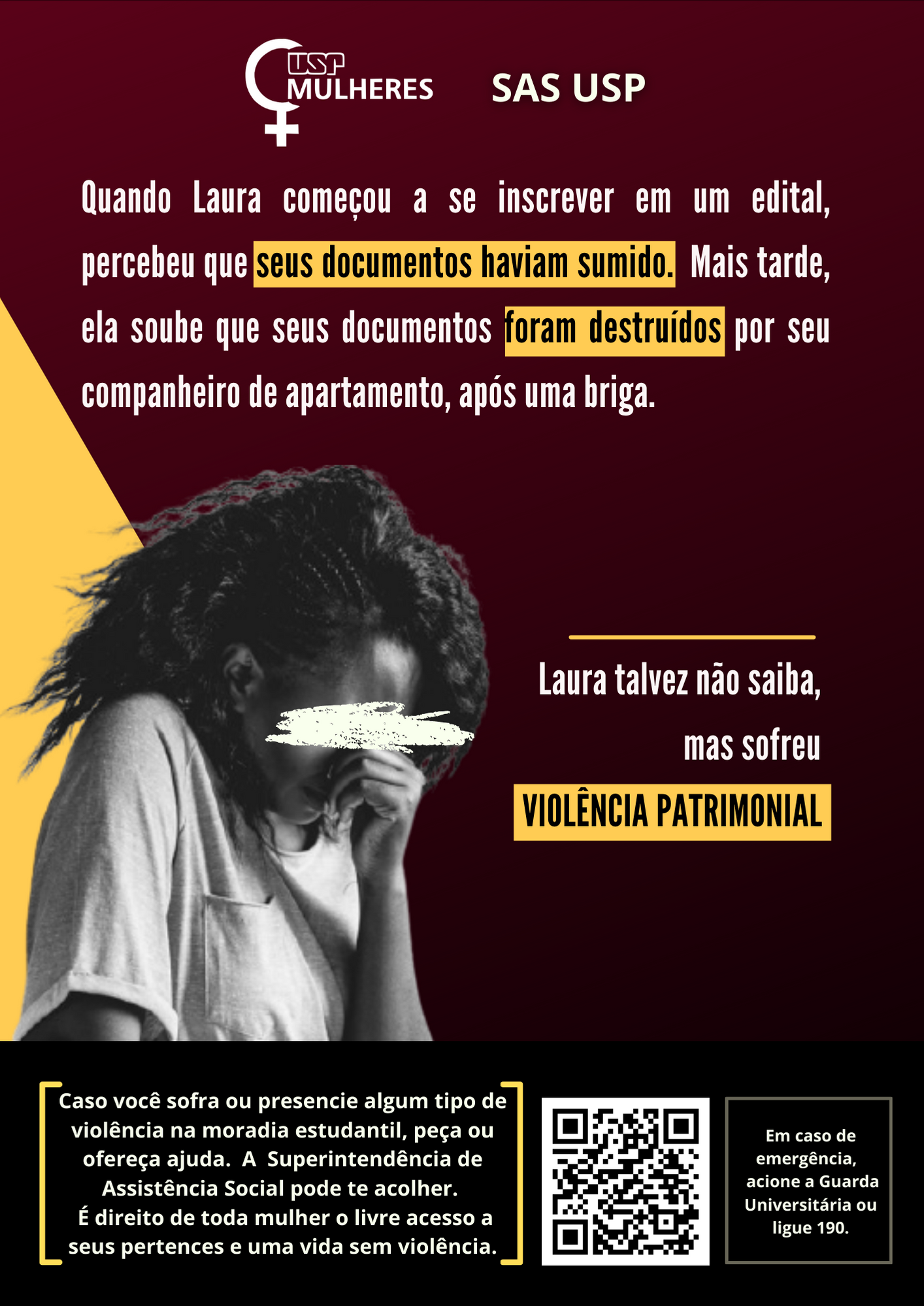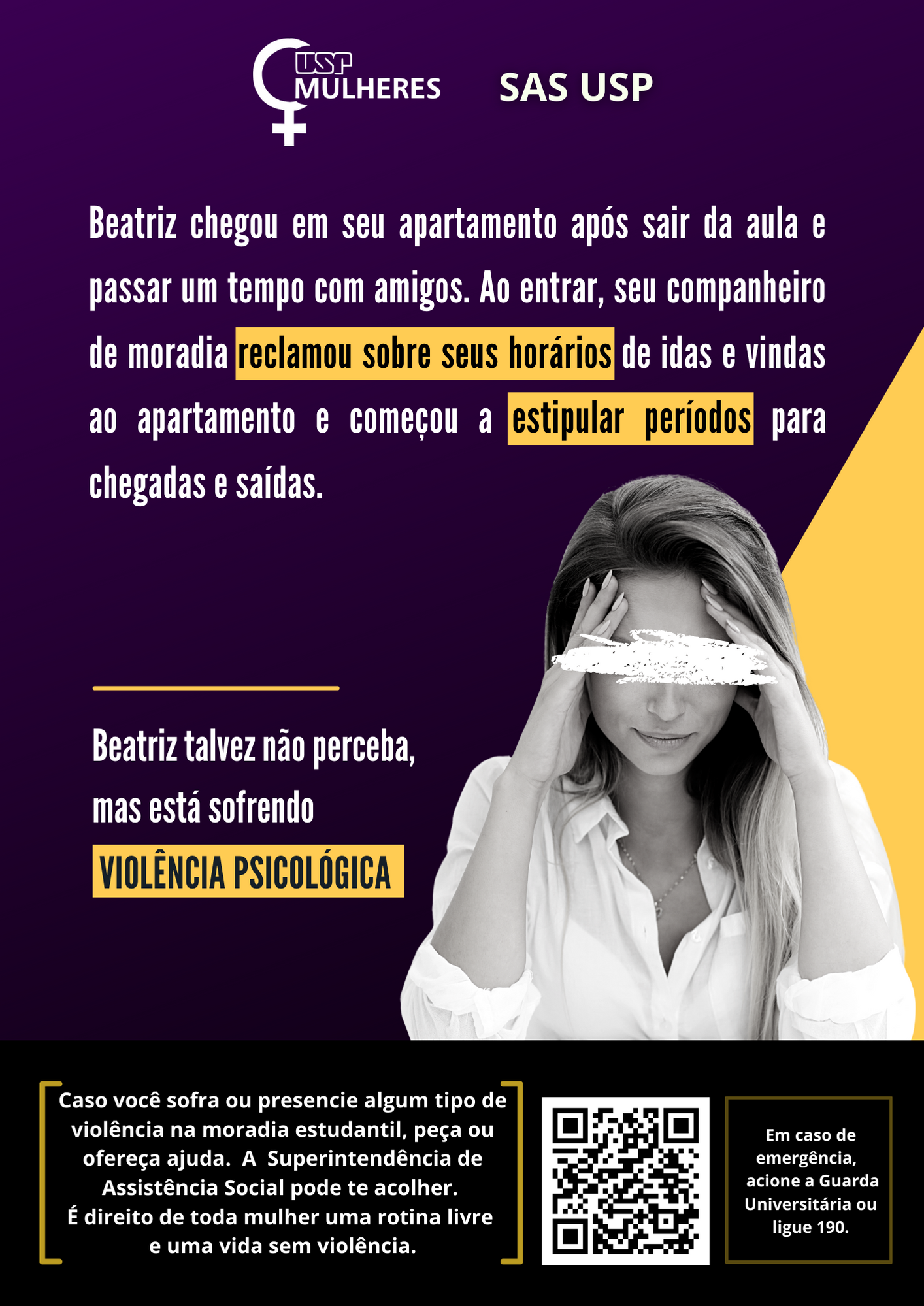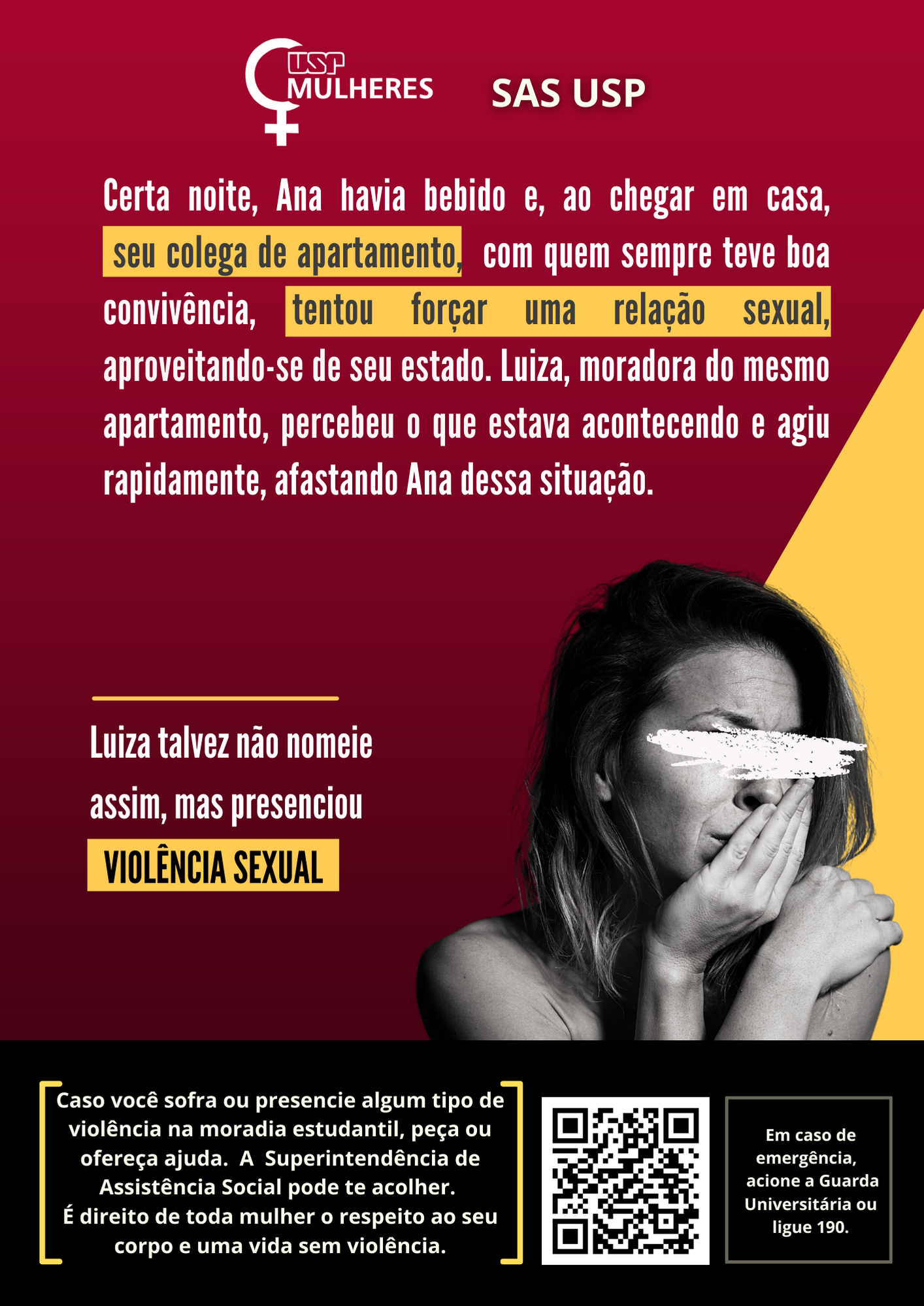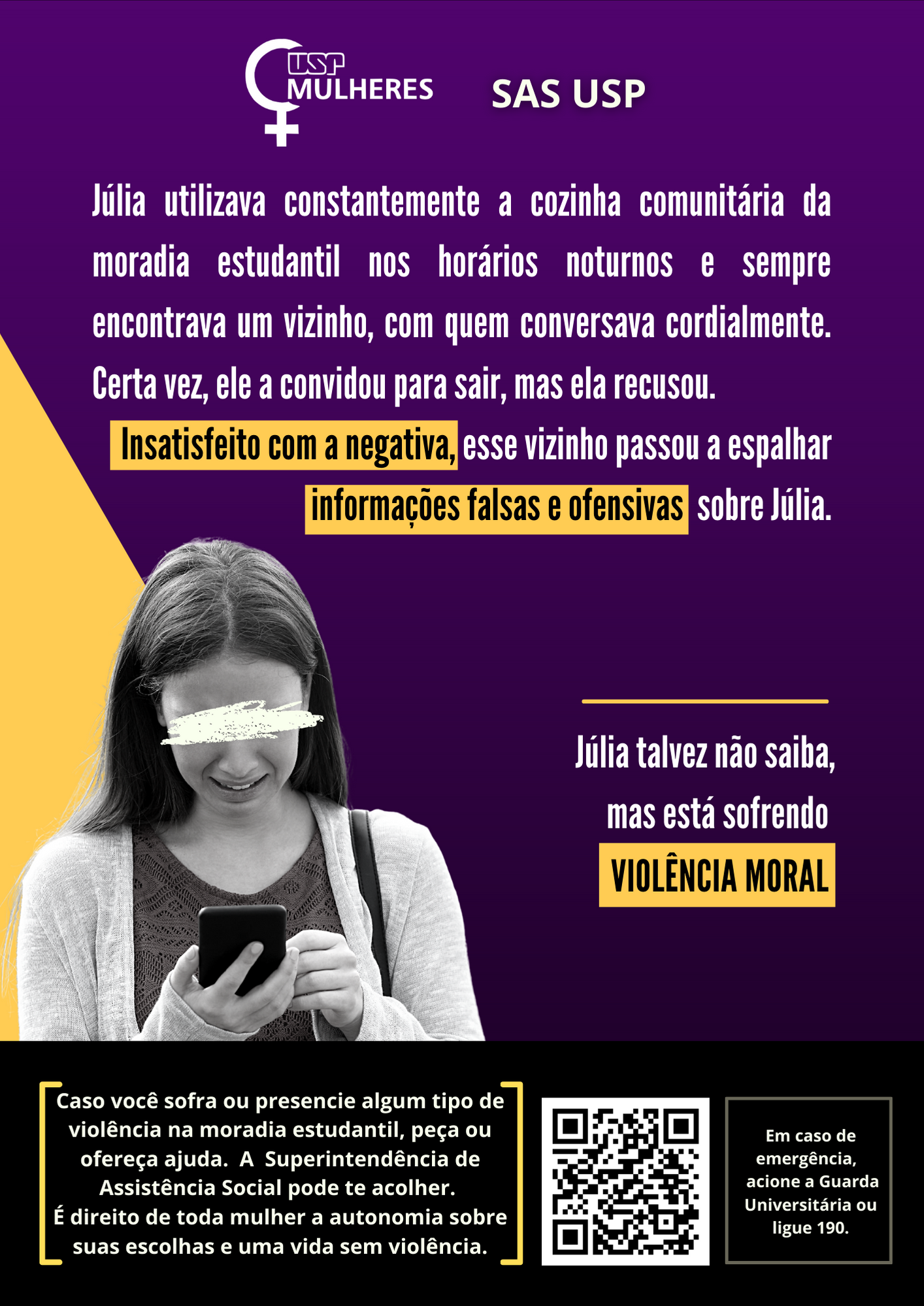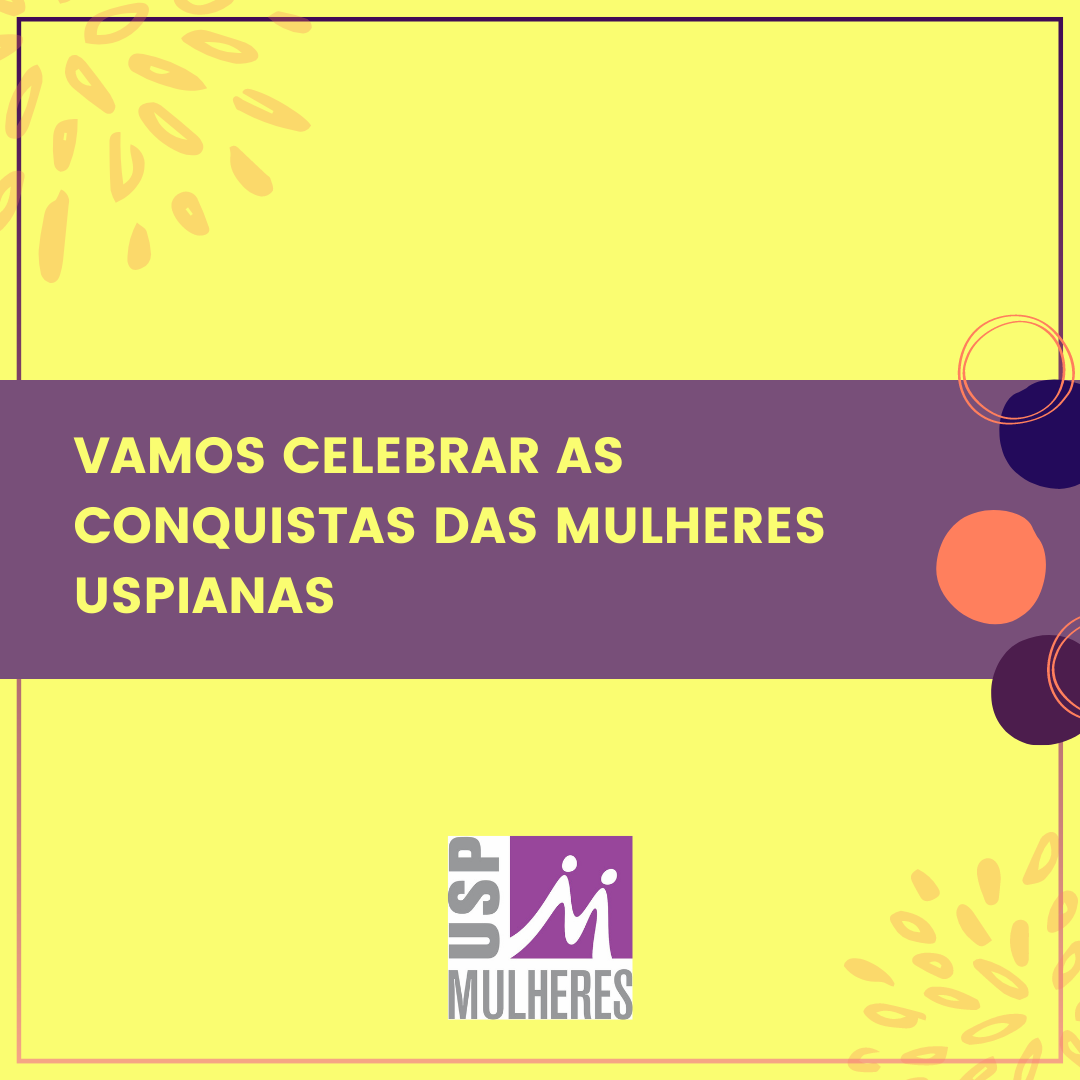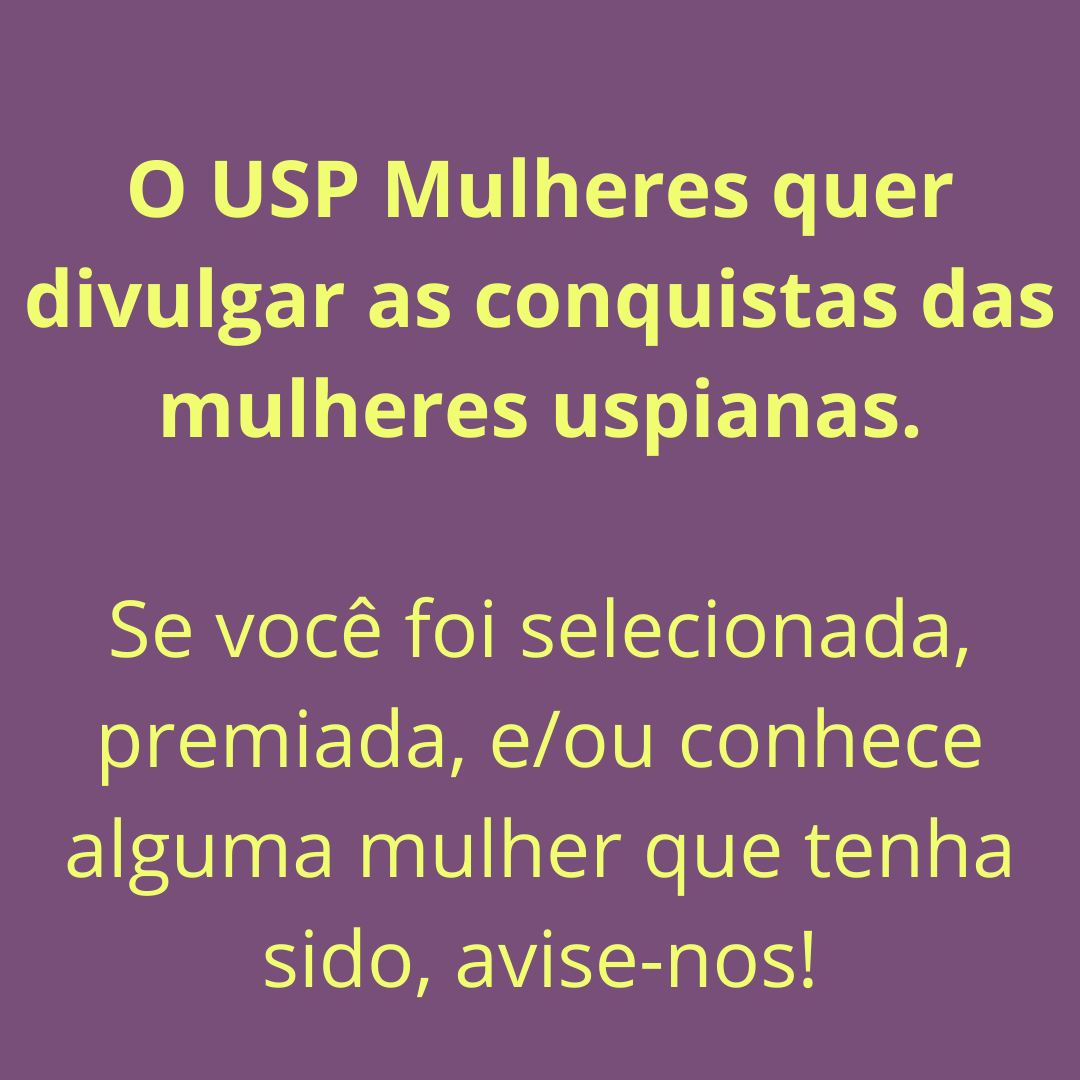Eva Alterman Blay é Professora Emérita da USP e coordenadora do Escritório USP Mulheres
Há mais de um século, precisamente 109 anos atrás, Clara Zetkin propôs o Dia Internacional da Mulher no II Congresso Internacional de Mulheres Socialistas. Almejava-se que as mulheres trabalhadoras pudessem votar; que os salários fossem minimamente melhores; exclusão das crianças do trabalho fabril; uma sociedade com justiça social. Na Rússia czarista, nos Estados Unidos, na Alemanha ou na Inglaterra se expandia vigorosa industrialização capitalista e as trabalhadoras se irmanavam em reivindicações semelhantes. Mulheres comunistas, social-democratas e socialistas tinham mais um ponto em comum: eram contra a guerra. Manifestações públicas pacíficas eram recebidas com patas de cavalos e as manifestantes, presas. Foi com muito sangue que as mulheres alcançaram alguns direitos hoje incorporados nas leis trabalhistas de vários países. Clara Zetkin, Alexandra Kolontai, Rosa Luxemburgo, Emma Goldman usaram a palavra como arma. Elas não matavam, queriam convencer pelo verbo. E mesmo assim foram mortas.
No Brasil a luta das mulheres foi semelhante: pelo direito ao voto, reconhecimento da cidadania, contra o patriarcado persistente, pelo fim da escravidão negra viva na realidade e na mentalidade brasileira. Chegamos ao século XXI com muitas conquistas. Conseguimos incluir as mulheres no rol dos direitos humanos, ao menos no campo legislativo, mas continuamos a ser mortas simplesmente por sermos mulheres.
Quando se mata uma mulher, o que se elimina: um corpo sexuado ou uma pessoa?
O feminismo começou a indagar onde estavam as mulheres na história brasileira. Revendo o passado vieram à luz os desempenhos ocultados das mulheres ao longo dos séculos: tínhamos participado intensamente no trabalho fabril, no rural, na construção da vida cotidiana, na educação, nas artes, em todos os serviços e na política. Revelaram-se estruturas familiares, os vários tipos de família, a hierarquia intrafamiliar e a violência oculta no “lar”.
Ao investigar a composição familiar se chegou a um centro: a mulher.
Mas quem é essa mulher? Somos todas iguais? Se as mulheres são diferentes entre si, onde está a diferença? Em princípio temos um mesmo sexo, geramos filhos, amamentamos. É isso que nos distingue? A cascata de perguntas é infindável. O feminismo abriu a caixa de Pandora (como disse Fanny Tabak, 2002).
Nos assemelhamos quanto ao sexo biológico, ainda assim as diferenças entre as mulheres se dão no tempo e no espaço. A sociedade onde se nasce e se vive molda (ou tenta moldar) um comportamento, aprendemos uma língua, adquirimos costumes, valores, nos generifica. O sexo biológico se distingue do gênero, o qual é moldado pela condição de classe, cor/etnia, geração, além de outros fatores, dependendo de cada momento político-histórico. Além do nosso sexo, a sociedade em que vivemos nos “ensina’ como nos comportar, vestir, agir.
A construção social na condição de sexo, o gênero, é fundamental para dar identidade a mulheres ou homens. Sexo, gênero, classe social, raça/etnia situam as mulheres e os homens nas sociedades. Embora em permanente mudança, a história tem mostrado como persiste a hierarquia de poder: homens brancos acima dos homens negros; mulheres brancas acima das mulheres negras; homens brancos acima das mulheres brancas, e assim por diante: sexo, gênero e cor acabam por definir os limites da condição de classe e as possibilidades de ascensão social.
Não estou dizendo que devemos excluir bonecas, cozinha, aparelhos de chá dos brinquedos infantis, mas sim que tanto meninos quanto meninas podem brincar igualmente com os mesmos brinquedos.
Apesar das intensas mudanças socioeconômicas e tecnológicas, a maternidade persiste como se fosse a única determinante na vida das mulheres e desponta como justificativa para impedir a ascensão profissional, para justificar salários inferiores aos de seus companheiros de mesma qualificação, e dificultar a progressão nas carreiras. Mesmo quando se analisa a maior frequência de mulheres na educação, as mulheres estacionam ou atrasam suas carreiras. O investimento educacional na metade da população – as mulheres – fica prejudicado por um superdimensionamento da função materna e a ausência de divisão do trabalho entre homens e mulheres.
Nas últimas décadas do século XX e início do XXI a ciência, profundamente influenciada pelas lacunas apontadas pelo feminismo começou a rever seus paradigmas. Se a ciência é neutra, qual o limite da objetividade com que os cientistas trabalham? Onde estão as cientistas? Por que seus trabalhos nem sempre estão registrados com seus nomes? Existe um viés de gênero na escolha dos problemas de investigação? Essas questões foram sabiamente colocadas por Londa Schiebinger em seu curso on-line sobre Gender Innovation. Para exemplificar os óculos de preconceito na ciência, Londa cita um exemplo que vale repetir aqui: por muito tempo se acreditava que a osteoporose fosse uma doença feminina, pois as mulheres eram mais “frágeis” que os homens. Em consequência se excluiu o estudo da osteoporoses nos homens. Ocorre que eles também têm o mesmo problema (Blaha et al., 2009). A pressuposição de que só as mulheres tinham a osteoporose retardou muito o conhecimento do problema entre os homens e, em consequência, a solução do mesmo.
A falsa neutralidade da ciência ficou demonstrada em outro experimento. A pesquisa de um medicamento utilizou apenas células masculinas e se excluíram as femininas. Concluída a pesquisa, recomendou-se que as dosagens para homens e mulheres fossem iguais. Ocorre que os efeitos foram inadequados para as mulheres provocando mais sonolência e perigo de acidentes. O medicamento foi retirado do mercado e se refizeram as pesquisas, agora incluindo células dos dois sexos. Resultou uma medicação cuja prescrição mostrou ser distinta se usada por homens ou mulheres. Além do custo de milhões de dólares, houve prejuízos humanos.
Com esse resultado a entidade norte-americana que controla pesquisas naquele país passou a exigir a inclusão de células dos dois sexos para as pesquisas.
Some-se aos exemplos a revisão que tem sido feita mostrando que a ciência “não é objetiva nem neutra” (Schiebinger, 1993, 1999; Spanier, 1995; Faulkner, 2006; Regitz-Zagrosek, 2006; Wajcman, 2007; Klinge, 2007; Wylie, 2007).
Na sociedade do conhecimento, seja no Brasil ou noutros países, persiste uma contradição que destrói o investimento do saber nas mulheres: a mentalidade e os valores patriarcais se sobrepõem às novas tecnologias do saber. Os valores patriarcais (inclusive a maternidade, cuidado dos filhos, subordinação ao companheiro) excluem as mulheres até fisicamente, como mostram os indecentes índices de feminicídio.
Se partimos dos saberes comuns, tendemos a não questioná-los. Nós os repetimos. Pensemos nos brinquedos infantis: se aceitarmos a noção de que as meninas devem se preparar para a maternidade, a casa, a cozinha, serem princesas, daremos a elas jogos e brinquedos que reforcem esses estereótipos: a Barbie cor de rosa, o carrinho de supermercado, panelinhas, etc. Mas se dermos às meninas brinquedos e jogos criativos, vamos despertar nelas mesmas amplas oportunidades de futuro. Com isso não estou dizendo que devemos excluir bonecas, cozinha, aparelhos de chá dos brinquedos infantis, mas sim que tanto meninos quanto meninas podem brincar igualmente com os mesmos brinquedos. Podemos despertar a curiosidade intelectual independentemente do sexo das crianças. Construir sociedades igualitárias implica também desenvolver nos homens sensibilidade para cuidar dos filhos e filhas, em desenvolver neles a paternidade e a sensibilidade.
Hoje comemorar o 8 de Março é um momento de agradecer às nossas antepassadas pela luta que travaram num mundo tão mais difícil que o atual. É também o momento de refletir que o pouco que avançamos não pode ser perdido. A geração que atualmente vai às ruas, meninas de 16, 17, 18 anos, compreende muito bem seus direitos e vão continuar a luta das antepassadas. Elas vão certamente avançar. O dia 8 de Março talvez chegue a ser contado nas escolas como um passado que abriu as portas do futuro.
Bibliografia
Blaha, J., Mancinelli, C., & Overgaard, K. (2009). “Failure of Sex to Predict the Size and Shape of the Knee”. The Journal Of Bone And Joint Surgery, 91 (S6), S19-S22.Se
European Commission. (2011). Structural Change in Research Institutions: Enhancing Excellence, Gender Equality, and Efficiency in Research and Innovation. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
National Science Foundation (NSF). ADVANCE—Increasing the participation and advancement of women in academic science and engineering careers. http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=5383 (6 jan., 2014).
Roth, J., Etzioni, R., Waters, T., Pettinger, M., Rossouw, J., Anderson, G., Chlebowski, R., Manson, J., Hlatky, M., Johnson, K. (2014). “Economic Return from the Women’s Health Initiative Estrogen Plus Progestin Clinical Trial: A Modeling Study”. Annals of Internal Medicine, 160 (9), 594-602.
Tabak, Fanny. O laboratório de Pandora. Estudos sobre a ciência no feminino. Rio de Janeiro. Garamond, 2002.
United States General Accounting Office. (2001). Drug Safety: Most Drugs withdrawn in Recent Years had Greater Health Risks for Women. Washington, DC: Government Publishing Office.