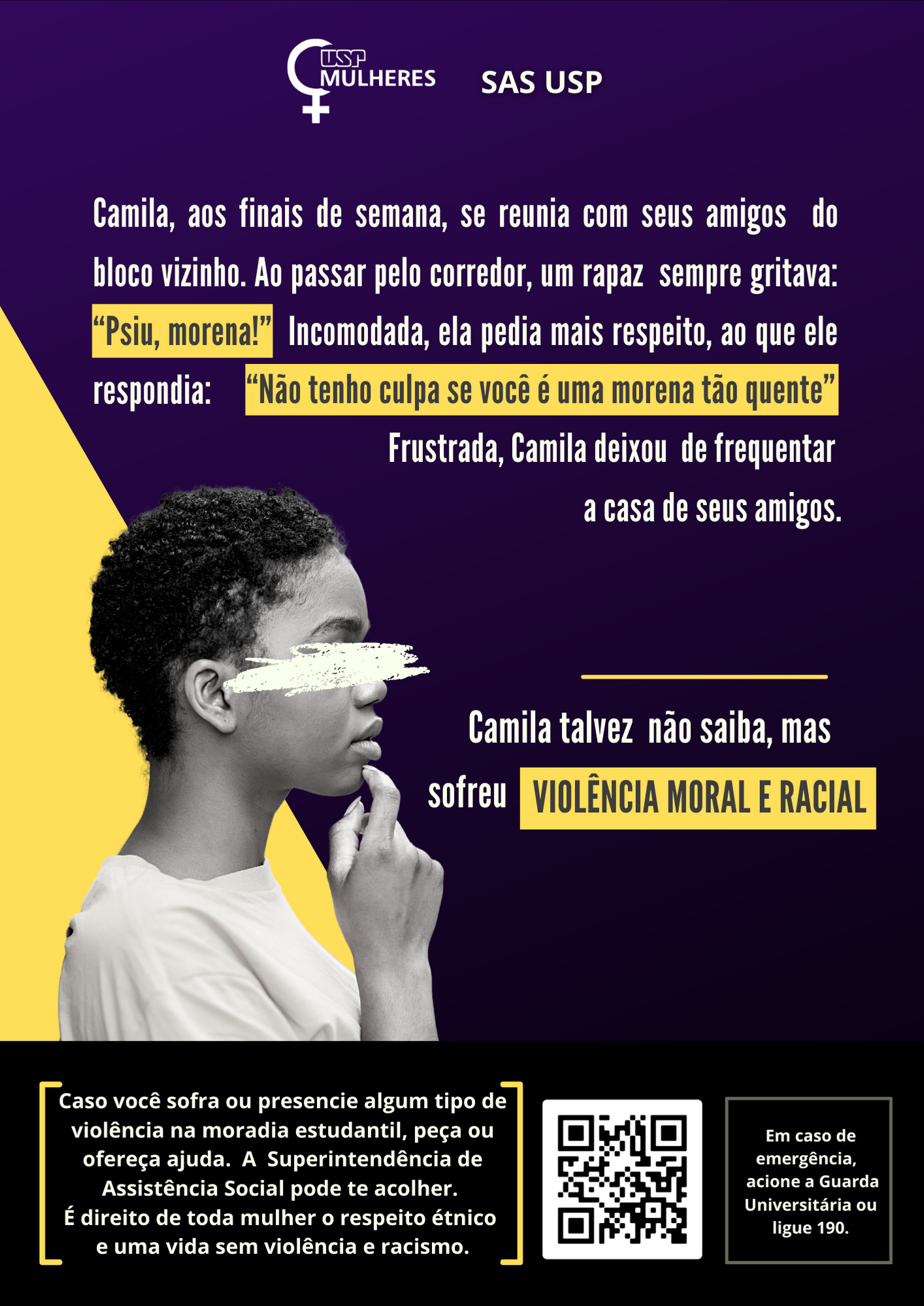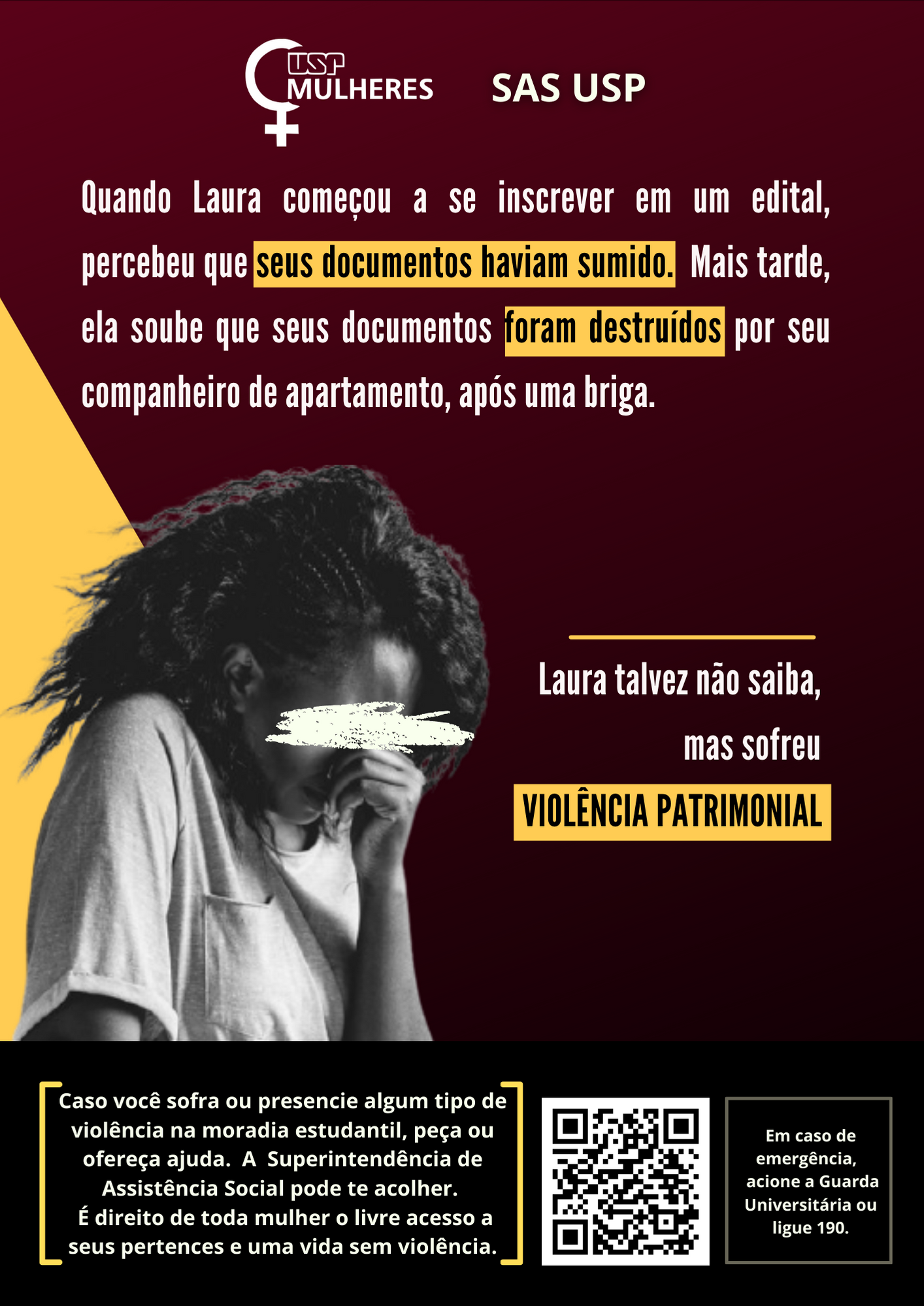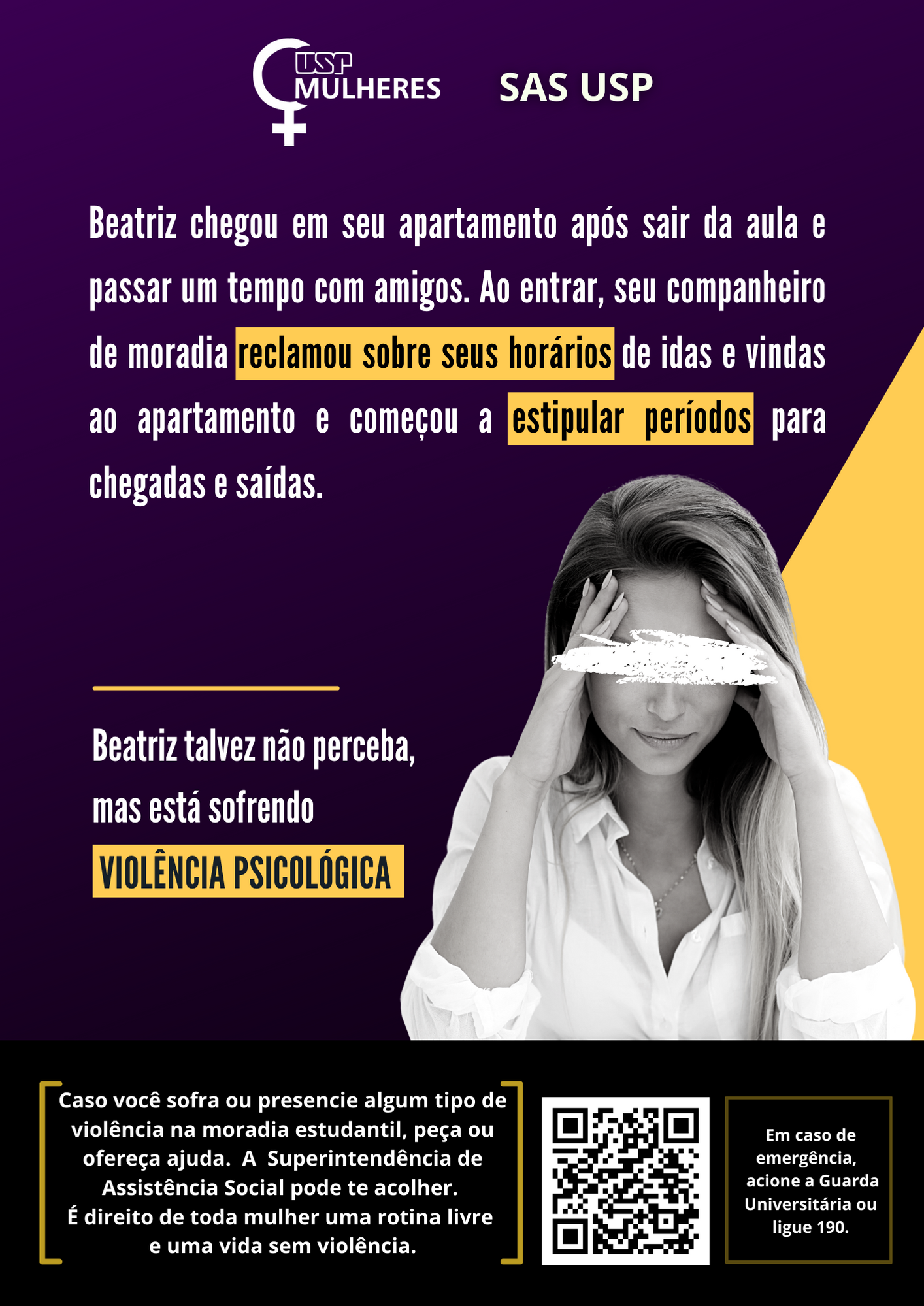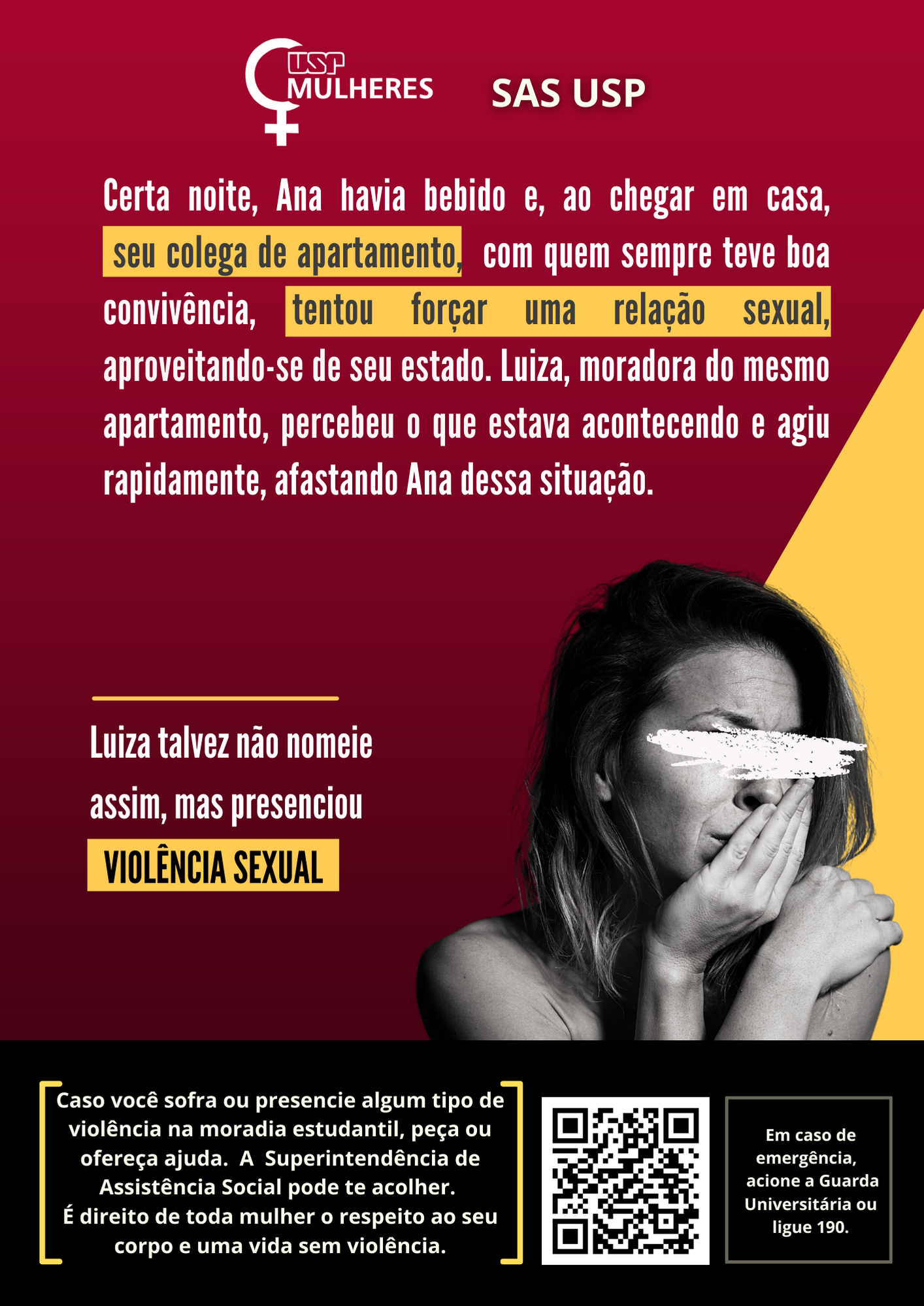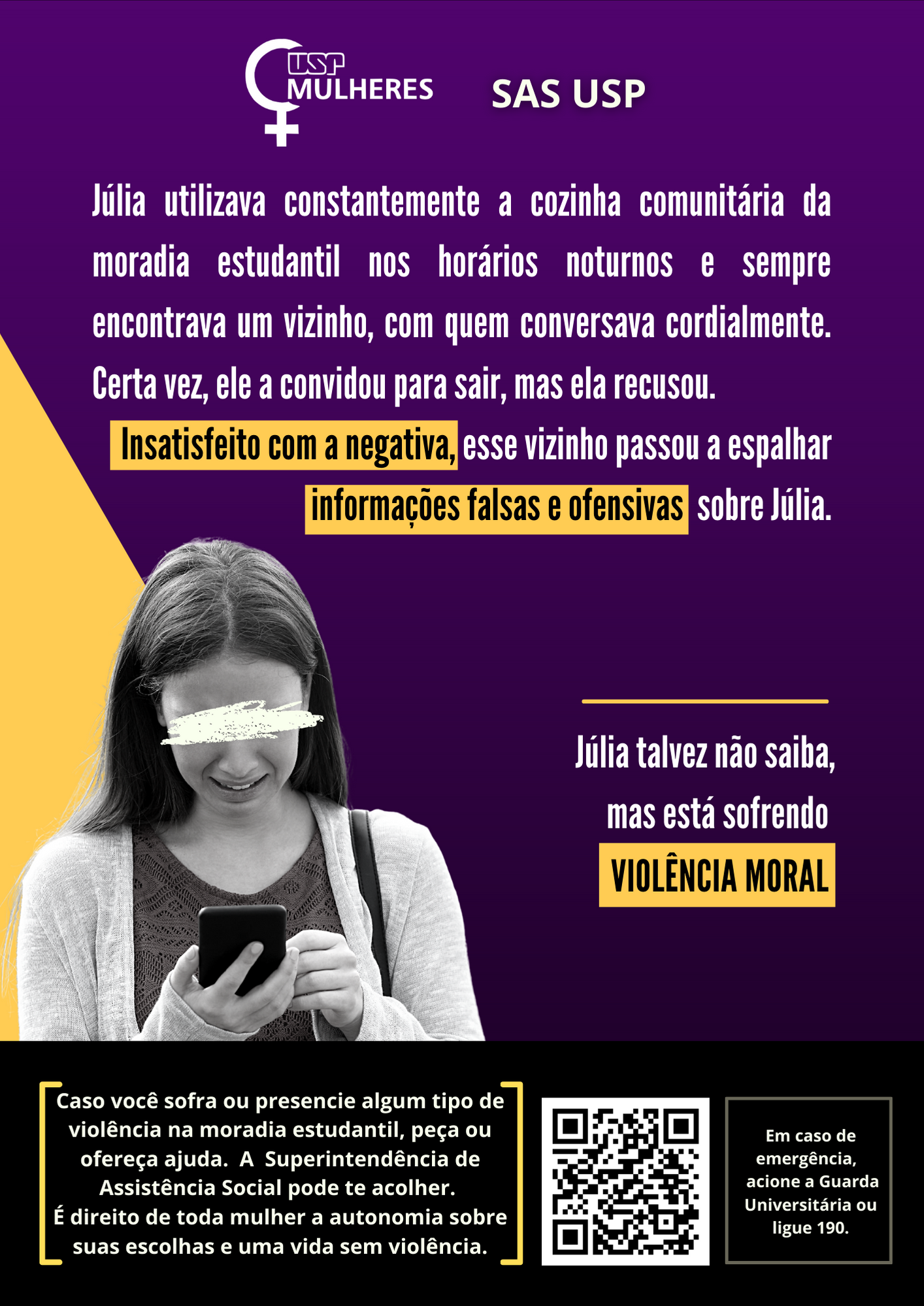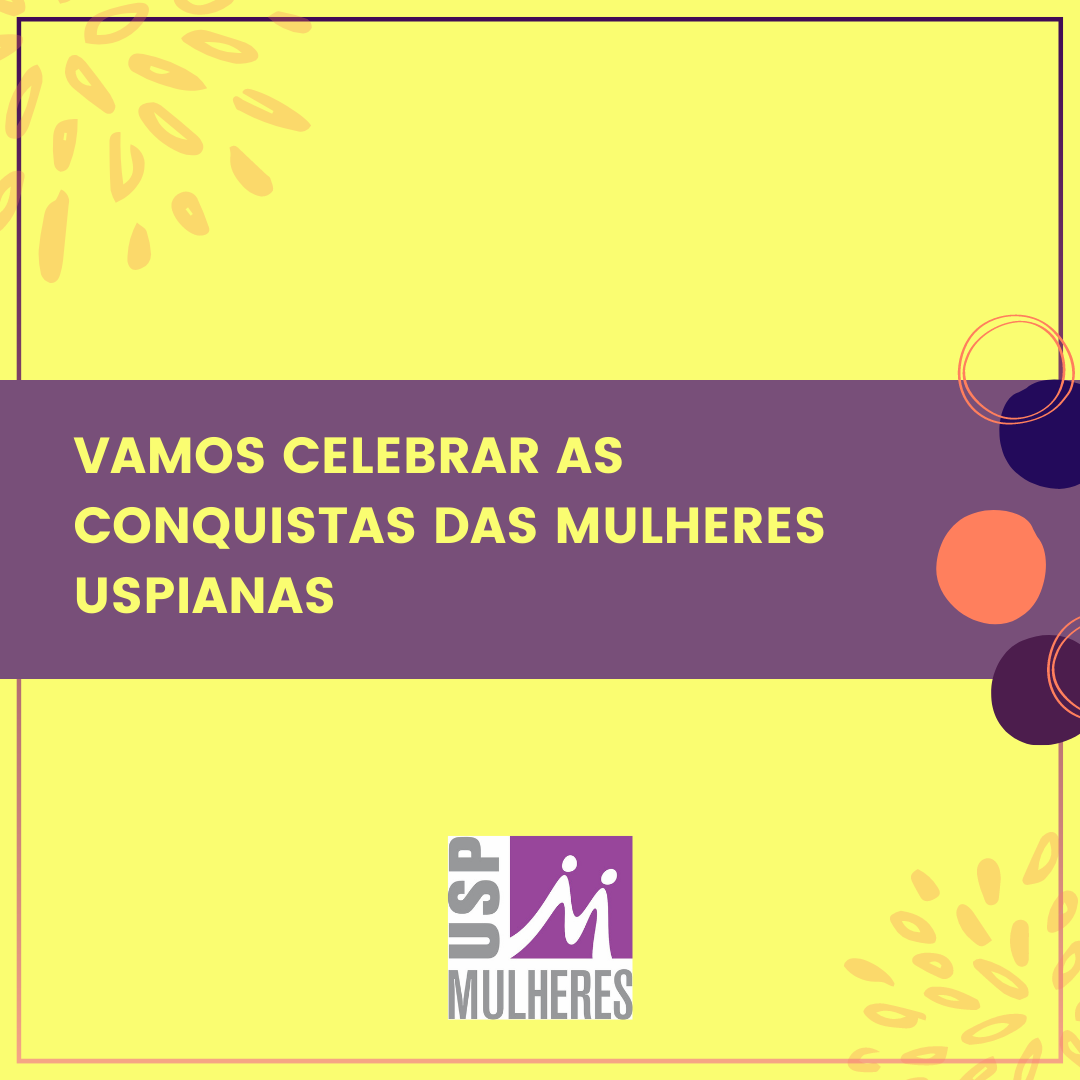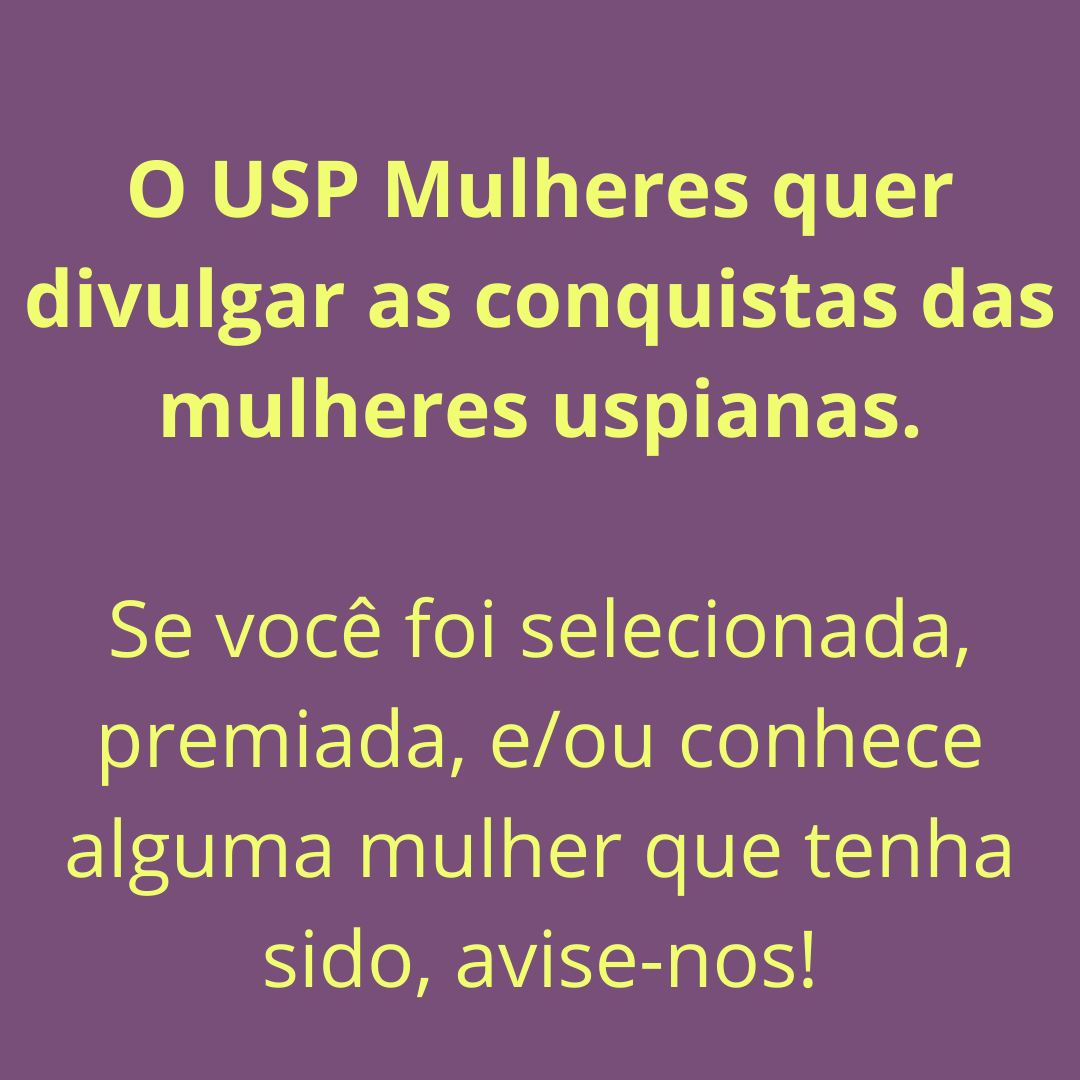Essa pergunta parece inconsequente. Mas qual a resposta correta e por que isso é importante? Sabe-se que ratos são, com muita frequência, usados para testes em laboratório. Qual a validade destes testes se não sabemos o sexo dos animais usados? Ou será que isso não faz nenhuma diferença?
Médicas da Alemanha, Holanda e outros países europeus que trabalham no campo da gender-medicine abordaram essa questão em recente reunião de mulheres cientistas realizada em Lisboa (AMONET 2017)[i]. Para traçar a origem da gender-medicine creio que vale recuperar a incorporação do conceito de gender/gênero na sociedade em geral e na medicina em particular.
A distinção entre sexo e gênero entrou na literatura sociológica há pouco mais de meio século (Rubin, Scott, Butler). Simplificadamente, sexo refere-se à aparência biológica da genitalidade do menino e da menina (aqui já começam as dificuldades relativas às crianças cujo aparelho genital não é claramente definido ao nascer). O gênero diz respeito ao comportamento e valores dos indivíduos em decorrência de condições sociais e históricas, portanto, são construções que mudam ao longo do tempo e no espaço. O feminismo desenvolveu esses conceitos para entender a construção social do que significa ser homem e ser mulher.
Os livros escolares são um bom exemplo de como, através do ensino, formamos (ou deformamos) os saberes dos indivíduos. Os movimentos feministas chamaram a atenção para a ilustração da figura da mulher e do homem nos livros didáticos: ela sempre de avental, como uma dona de casa, e ele com uma pasta nas mãos, pronto para sair para o trabalho. Por meio de uma mensagem visual reduzia-se a mulher retirando-lhe a capacidade de estudar, trabalhar, e se modelava para ela um destino doméstico, com filhos e cuidado da prole. As feministas negras indagavam o porquê da ausência dos negros nos livros escolares e questionavam nas raras aparições que eles eram sempre marcados por posições subalternas: a mulher negra era a empregada doméstica e o homem negro, quando desenhado, estava numa profissão pouco valorizada. Ao trazer essa visão crítica, os feminismos passaram a exigir mudanças no conteúdo dessa literatura. Resultou uma revolucionária etapa preliminar.
Novas indagações provocaram outras leituras da história que nos era ensinada nos bancos escolares. Vozes femininas ocultadas na historiografia começaram a ser redescobertas. Personagens ignoradas na literatura, nas artes, na política, afloraram através de novos métodos de investigação em que a suposta homogeneidade masculina dos protagonistas foi substituída pela diversidade. Esse esforço metodológico revolucionário enfrentou – e continua enfrentando – profundas críticas e resistências ao desvendar variáveis ocultadas nos processos sociopolíticos. Mulheres, homens, grupos étnicos, negros e não negros, pessoas de diferentes classes sociais, com ou sem educação formal, com diversos saberes, passaram a contar nossas histórias.
Hoje é inconcebível imaginar como, em 1960, ao divulgar os dados da força de trabalho no Brasil, o IBGE ignorasse que havia homens e mulheres trabalhando e apresentasse os dados como uma totalidade. Quem quisesse conhecer a composição da mesma deveria “manualmente” recontar os dados (Blay, 1972). Foram feministas estudiosas da Fundação Carlos Chagas que propuseram que os dados do mercado de trabalho fossem expostos por sexo.
Esse rápido retrospecto nos leva à fundamental pergunta de Londa Schiebinger (1999): “O feminismo mudou a ciência?”. Londa mostra, através da história da ciência, os prejuízos decorrentes da ausência das mulheres seja como produtoras da ciência, seja como parte da estrutura da pesquisa, incorporando em sua análise a perspectiva sociológica que introduzia a variável sexo/gênero no campo do conhecimento.
Para traçar a origem da gender-medicine creio que vale recuperar a incorporação do conceito de gender/gênero na sociedade em geral e na medicina em particular.
Na medicina (me perdoem a incursão numa área tão exclusiva), os dois últimos números da revista The Lancet avaliam, através de 20 grandes publicações internacionais, que já se tem um diagnóstico sobre a presença de médicas, onde elas predominam, quanto ganham (menos do que os homens), qual o regime de trabalho, a permanência e as especializações, entre outras dimensões. Para o Brasil o Cremesp (2017) fez pesquisa semelhante. A Lancet propõe um desafio em Women in science, medicine, and global health: call for pape [ii] que se tragam perspectivas desconhecidas decorrentes da entrada ou carência de sexo/gênero na medicina. Certamente logo veremos a inclusão das pesquisas inovadoras que citei no início deste texto apresentadas no Simpósio Internacional da AMONET [iii] em dezembro de 2017 .
Dentre as cientistas estava Vera Regitz-Zagrosek, entrevistada [iv] sobre seu trabalho de coordenação do German Heart Institute e na European Commission Drug trials need gender balance em 2/11/2015 [v] . Vera fez algumas observações e perguntas que ainda buscam respostas como: se na população as doenças cardíacas afetam mais mulheres do que homens, por que nos cuidados terciários (quando há cirurgias, cuidados mais profundos) 85% dos pacientes são homens? O que provoca essa diferença no atendimento?
O método proposto pelo Eugen Med equipara-se à incorporação do feminismo interseccional desenvolvido por feministas negras. Ao criticar um feminismo predominantemente branco, Patrícia Hill Collins (1990) inova ao mostrar as variações decorrentes da inclusão da condição étnica.
Vera mostrou que grande parte das pesquisas é feita com ratos machos, jovens e os resultados são aplicados para a população toda. Desconsideram-se mulheres de várias idades, e as etapas antes, durante ou posteriores à menopausa. É necessário, afirma ela, que as pesquisas considerem as especificidades de sua população, pois há casos em que alguns medicamentos são adequados para os homens, mas não para as mulheres. Cita, entre outros, um medicamento receitado para o sono em que as mulheres necessitam de doses menores do que os homens, pois com doses semelhantes elas ficam sonolentas durante o dia e, em consequência, isso tem provocado acidentes [vi]. Há também casos em que o medicamento se mostra inadequado para as mulheres em geral, mas não para os homens. Conclui ela: “Queremos que as pesquisas sejam feitas desde o início estratificadas para que se possa fazer afirmações para homens e para mulheres”.
O método proposto pelo Eugen Med equipara-se à incorporação do feminismo interseccional desenvolvido por feministas negras. Ao criticar um feminismo predominantemente branco, Patrícia Hill Collins (1990) inova ao mostrar as variações decorrentes da inclusão da condição étnica. A proposta da gender-medicine é semelhante: as pesquisas devem ser desenhadas a partir da diversidade da população para que os resultados possam ser corretos [vii].
Buscam-se, pois (Gendered Innovations) [viii], inovações generificadas “isto é, em que se integre a análise de sexo e gênero em todas as fases das pesquisas básicas e aplicadas para garantir resultados de excelência e qualidade”. Dentre os problemas das pesquisas feitas com animais observou-se que se incluem modelos masculinos e se excluem os femininos, o que resulta em três implicações: a) se conhecem menos doenças que ocorrem com mulheres; b) mesmo nos casos em que o problema ocorre com mulheres ele é estudado em modelos masculinos; c) em casos em que a variável sexo se mostrou importante, não há dados suficientes para compará-las.
Quando se inclui sexo/gênero nas pesquisas observam-se algumas inovações, como: 1. ao estudar as diferenças sexuais em animais encontraram-se novos tratamentos para traumas cerebrais (TBi); 2. ao incluir a gravidez verificou-se a influência biológica dos hormônios na base molecular, o que permitiu conhecer certas doenças autoimunes; 3. ao mostrar a relação entre sexo e toxicidades provocou-se mudança nos padrões ambientais.
A partir dessas descobertas o passo seguinte serão as pesquisas sobre câncer de pulmão, asma, diabete, derrames e doenças cardiovasculares. Para isso é necessário convencer tanto a população leiga quanto estudantes, pesquisadores e médicos sobre a importância de considerar sexo e gênero na área da saúde.
Dentre as pesquisas da gender-medicine chamou-me atenção aquelas sobre o ovário e os testículos. Durante muito tempo a literatura considerava que nós, mulheres, tínhamos uma falta (default), uma ausência. Isto é, não tínhamos testículos. Eram os testículos que determinavam o sexo, pois se ignorava o desenvolvimento do ovário, que era tido como “passivo”. As descobertas genéticas mostraram inconsistência ao considerar que o ovário não se desenvolvia. A inovação trazida pelo gênero foi reconhecer o ovário, seu mecanismo de desenvolvimento. Descobriu-se que um fator pode permitir ou impedir que um ovário adulto se transforme num testículo: Discovery of Ongoing Ovarian and Testis Maintenance research into the ovarian pathway revealed that the transcriptional regulator foXL2 must be expressed in adult ovarian follicles to prevent “transdifferentiation of an adult ovary to a testis” (Uhlenhaut et al., 2009)”. O processo é bem complexo, abandonou-se a ideia de default e os processos para ovário e testículo são constantes e precisam de dosagens adequadas dos gene products.
Conclui-se, pois, que a composição celular de ratos e ratas tem de ser considerada sob pena de generalização excessiva, desconhecimento e atraso científico. As pesquisas relativas a cada estrato amostral precisam ser comparadas. Os resultados não podem ser a priori generalizados. A diversidade humana e animal deve ser respeitada.